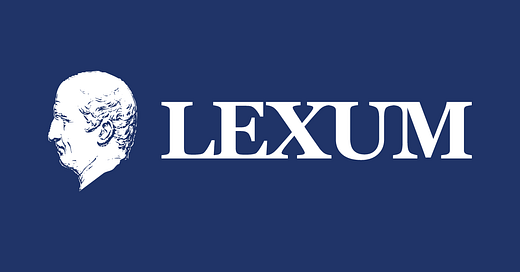Interpretando o Núcleo da Constituição: Uma Defesa do Textualismo e dos Direitos Naturais
Roberto Campos, em sua visão sempre perspicaz, descreveu a Constituição Brasileira como “uma mistura de dicionário de utopias e regulamentação minuciosa do efêmero.” Ele estava certo. Nossa Constituição, promulgada em 1988, incorpora um volume considerável de dispositivos que mais refletem anseios momentâneos do que princípios duradouros, o que contribui para sua inflacionada complexidade e, muitas vezes, para a insegurança jurídica. Porém, no emaranhado do texto constitucional, é possível identificar um núcleo mais sólido: as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, §4º, que protegem a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, a forma federativa do Estado e o voto direto, secreto, universal e periódico. Esse núcleo duro representa a “identidade constitucional” da nossa Carta Política.
Ao interpretar o artigo 60, §4º da Constituição, o Supremo Tribunal Federal (STF) frequentemente utiliza a proteção do núcleo essencial como parâmetro para o controle de emendas constitucionais que possam violar esse postulado. A inconstitucionalidade será reconhecida caso se identifique a violação desse núcleo essencial. Assim, definir com precisão o que constitui esse núcleo é fundamental, pois estabelece o que o Supremo considera ou não válido.
Sobre esse ponto, o Ministro Roberto Barroso entende que, “por se tratar de limitações ao poder de deliberação das maiorias – elemento inerente à democracia –, as cláusulas pétreas devem ser interpretadas com comedimento”, permitindo-se a invalidação apenas de emendas constitucionais que atinjam o núcleo essencial da cláusula pétrea, esvaziando ou minimizando em excesso a proteção conferida pelo direito (MS 34.448-MC, Decisão Monocrática Min. Roberto Barroso, DJe 13.10.2016, p. 11). Esse dilema entre preservar o núcleo essencial das cláusulas pétreas e assegurar espaço para a deliberação democrática evidencia a dificuldade de encontrar um ponto de equilíbrio, já reconhecida pelo próprio Ministro Barroso.
O principal problema reside no fato de que a definição desse núcleo essencial é, n visão dos progressistas, uma tarefa subjetiva e aberta. Essa flexibilidade interpretativa concede ao STF um poder significativo, permitindo que seus membros atuem como verdadeiros Constituintes Originários. Portanto, a adoção de uma abordagem textualista surge como mecanismo crucial para limitar a discricionariedade judicial, garantindo que a interpretação das cláusulas pétreas respeite o texto constitucional e evite desvios interpretativos que possam comprometer a estabilidade institucional.
Nesse contexto, torna-se evidente que as cláusulas pétreas, mais do que todas as outras, demandam uma interpretação textual. Esse método consiste em interpretar o texto constitucional com base no significado público das palavras no momento de sua promulgação. Em contraste com abordagens mais progressistas, que adaptam o texto ao espírito do tempo, o textualismo busca preservar a integridade do pacto social firmado pelos constituintes, assegurando que sua vontade originária não seja desvirtuada por interpretações subjetivas ou conveniências políticas.
No entanto, a interpretação textual pura não é suficiente para resguardar os princípios fundamentais da Constituição. É necessário integrá-la ao contexto e a um arcabouço ético e filosófico que dê sentido às cláusulas pétreas. Aqui entra em cena a ideia de direitos naturais positivados — vida, liberdade, propriedade, paz social e busca pela felicidade. Esses valores, que permeiam a tradição ocidental desde Locke, são a base sobre a qual se constrói a legitimidade do texto constitucional, estando expressamente reconhecidos na Constituição Brasileira. O direito à vida e à liberdade está previsto no artigo 5º, caput; o direito à propriedade é assegurado no artigo 5º, inciso XXII; a paz social é implicitamente protegida por diversos dispositivos que asseguram a ordem pública e a segurança (artigos 3º, incisos I e IV, e 144); e a busca pela felicidade se reflete nos objetivos fundamentais da República, como promover o bem de todos, sem preconceitos ou discriminações (artigo 3º, inciso IV).
Essa positivação dos direitos naturais na Constituição não deve ser confundida com direitos de natureza programática ou com desdobramentos decorrentes de políticas públicas. Enquanto os direitos naturais — como vida, liberdade, propriedade, paz social e busca pela felicidade — são inerentes à condição humana e anteriores ao Estado, os direitos sociais, culturais e econômicos representam expectativas de realização por meio de ações estatais. A distinção entre esses dois tipos de direitos é fundamental para assegurar que os direitos naturais mantenham seu caráter de proteção imediata e inalienável, servindo como limite ao poder estatal e como base para a interpretação das normas constitucionais. Assim, a correta compreensão dessa hierarquia de direitos é essencial para preservar a estrutura constitucional e evitar que direitos programáticos sejam indevidamente utilizados para restringir liberdades individuais ou relativizar garantias fundamentais, impedindo, inclusive, a realização dos direitos naturais.
Nesse passo, é importante considerar que o respeito aos direitos naturais é a base da legitimidade moral das leis. Quando o Estado desconsidera ou viola esses direitos fundamentais, as leis deixam de ser vistas como instrumentos de justiça e passam a ser obedecidas apenas por temor à punição, não por convicção. Esse rompimento entre legalidade e legitimidade enfraquece a coesão social e mina a autoridade legítima do governo. A história demonstra que abusos graves e persistentes por parte do poder estatal podem justificar formas de resistência, como afirmaram os fundadores dos Estados Unidos na “Declaração de Independência”, ao romperem com um governo que violava seus direitos inalienáveis. Contudo, tais medidas extremas, como a resistência civil, a secessão ou mesmo a revolução, devem ser consideradas com prudência e somente diante de opressões sistemáticas e contínuas, não por insatisfações momentâneas ou triviais. A verdadeira liberdade, essencial para garantir a paz, a prosperidade e a busca pela felicidade, não se confunde com a licenciosidade, que representa o abuso da liberdade sem responsabilidade. A liberdade genuína deve ser solidamente fundamentada nos direitos naturais, que estruturam a ordem social e asseguram a convivência harmoniosa entre os indivíduos e o Estado, promovendo a paz social.
Muito bem. O artigo 60, §4º, não é apenas uma defesa da rigidez constitucional. Ele é a expressão de uma filosofia política mais ampla que reconhece limites claros ao poder estatal. A separação de poderes, por exemplo, não é apenas uma questão de técnica jurídica, mas uma proteção contra o arbítrio, garantindo que a liberdade individual seja preservada. Da mesma forma, os direitos e garantias individuais refletem o reconhecimento de que certos direitos não são concedidos pelo Estado, mas são inerentes à dignidade humana.
Portanto, ao interpretar essas cláusulas, o jurista não pode ignorar a base filosófica que as sustenta – principalmente ao se considerar que o Brasil é uma Democracia Liberal. O textualismo, aqui, não se limita à análise gramatical ou histórica das palavras. Ele requer uma consideração dos princípios subjacentes que deram origem ao texto. Assim, enquanto o significado público das palavras guia a interpretação, os direitos naturais positivados oferecem a bússola moral que assegura que a leitura seja coerente com os valores fundamentais da sociedade.
O conceito de Judicial Engagement, desenvolvido pelo jurista Randy Barnett[1] no contexto norte-americano, em contraste com o “ativismo judicial”, refere-se à postura ativa dos tribunais em avaliar se as restrições impostas pelo legislador realmente se alinham aos limites constitucionais e servem ao interesse público. Diferentemente de uma abordagem deferente que presume automaticamente a constitucionalidade das leis, o Judicial Engagement exige que o Judiciário analise se as normas são genuinamente racionais – inclusive sob o aspecto consequencialista –, proporcionais e não arbitrárias, em atenção ao artigo 94, inciso IX da Constituição. Essa análise não implica ativismo judicial, mas sim o cumprimento do papel do Judiciário como guardião da Constituição.
No Brasil, onde a Constituição de 1988 – frise-se – estabelece um núcleo rígido por meio das cláusulas pétreas do artigo 60, §4º, a aplicação desse conceito poderia oferecer um modelo valioso para fortalecer a proteção das garantias fundamentais. Ao invés de aceitar justificativas hipotéticas ou frágeis para a validade de uma norma, os tribunais deveriam assegurar que as medidas legislativas respeitem os direitos e liberdades previstos no pacto constitucional.
O Judicial Engagement propõe que a interpretação judicial vá além de uma leitura passiva ou deferente das normas legislativas, exigindo um escrutínio robusto para garantir que os meios adotados pelo legislador estejam genuinamente relacionados aos fins declarados. Isso significa que o Judiciário deve não apenas interpretar o texto constitucional conforme seu significado público no momento da promulgação, mas, também, assegurar que as medidas legislativas sejam proporcionais, racionais e não arbitrárias, protegendo o pacto social e os direitos fundamentais.
A aplicação do Judicial Engagement, entretanto, exige uma atuação judicial firme na proteção das liberdades individuais, mas rigorosamente limitada pelo respeito ao texto constitucional e à separação de poderes. Isso implica adotar uma interpretação originalista, evitando interpretações subjetivas ou evolutivas que desvirtuem o texto. Além disso, deve-se adotar a presunção de liberdade, exigindo que o Estado justifique de forma clara e objetiva qualquer restrição a direitos fundamentais. Além disso, nessa atividade, o Judiciário deve, necessariamente, fundamentar suas decisões em evidências concretas e justificações públicas, afastando julgamentos baseados em preferências pessoais ou ideológicas, e respeitar estritamente os limites institucionais impostos pela separação de poderes, sem legislar ou interferir em funções executivas. Esse modelo assegura um equilíbrio entre a defesa das garantias individuais e o funcionamento adequado das instituições democráticas e republicanas.
O caso norte-americano de Williamson v. Lee Optical fornece uma lição importante nesse sentido. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ao aceitar justificativas irrazoáveis às óticas e criar reserva de mercado aos optometristas[2], exemplifica os riscos de um Judiciário que abdica de seu papel de guardião das liberdades fundamentais. Tal abordagem permite que legislações motivadas por interesses de classe sejam disfarçadas como medidas de interesse público, abrindo espaço para abusos.
No contexto brasileiro, a abordagem de Judicial Engagement poderia ser aplicada como um modelo de controle judicial sobre leis e políticas públicas que limitem liberdades econômicas ou civis protegidas pelas cláusulas pétreas. Assim, o Judiciário não apenas interpretaria o texto constitucional, mas atuaria como um guardião de sua integridade normativa e moral, promovendo a estabilidade jurídica e a proteção dos valores fundamentais.
Nesse passo, é essencial diferenciar “interpretação” de “construção” constitucional, conforme destacado por Randy Barnett[3]. Enquanto a interpretação busca identificar o significado público das palavras do texto no momento de sua promulgação, a construção trata de aplicar esse significado a casos concretos, especialmente em situações onde o texto apresenta ambiguidades ou vagueza. Por exemplo, as cláusulas pétreas da Constituição podem ser interpretadas textualmente para preservar sua integridade, mas sua aplicação prática em cenários limítrofes requer princípios normativos que respeitem os direitos naturais e a separação de poderes. Essa abordagem evita que a construção se torne arbitrária, reforçando a legitimidade do pacto constitucional.
Adotar essa abordagem não significa engessar a Constituição em uma leitura estática e anacrônica. Pelo contrário, é uma maneira de garantir que a interpretação constitucional seja estável e previsível, mas também alinhada com os princípios permanentes que transcendem as contingências do momento. Além disso, essa postura fortalece o princípio democrático e a política. Permite-se, assim, que a sociedade evolua no debate e não por decisões de juízes[4]. O desafio, portanto, é equilibrar o respeito pelo texto com a compreensão de que a Constituição não é apenas uma ferramenta técnica, mas também uma expressão de valores éticos e políticos.
Ao proteger as cláusulas pétreas com um textualismo embasado nos direitos naturais, reafirmamos o compromisso com uma ordem política que limita o poder estatal e promove a liberdade. Mais do que uma escolha metodológica, essa é uma decisão de princípios: uma reafirmação de que a Constituição deve ser um instrumento para governar aqueles que nos governam, e não uma ferramenta para governar nossas vidas em cada detalhe.
Essa abordagem não apenas preserva o espírito do pacto constitucional original, mas também fortalece a credibilidade e a legitimidade do ordenamento jurídico como um todo. Afinal, diante da provocação de Roberto Campos – mencionada no primeiro parágrafo desse texto –, apenas com um núcleo sólido e fundamentado em valores perenes é que poderemos separar o duradouro do efêmero e assegurar que nossa Constituição esteja à altura das aspirações de liberdade, paz e justiça de todos os brasileiros.
É bom lembrar, nesse passo, que, ao tomar posse, os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem um juramento: “Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República” [5]. Esse compromisso não é subjetivo; não é um juramento para cumprir a Constituição conforme interpretações pessoais, mas, sim, conforme seu texto e significado público. Randy Barnett argumenta que, embora nós, o povo, não tenhamos assinado o pacto social de forma expressa, estamos vinculados a ele pela aceitação tácita. Porém, os juízes, ao contrário, juraram expressamente defender o texto da Constituição, um vínculo solene que lhes exige fidelidade não a uma versão reinventada do pacto, mas àquele promulgado em sua origem. Como Barnett observa, a Constituição escrita é o instrumento que governa os governantes, e sua eficácia depende de os juízes respeitarem as limitações impostas pelo texto, assegurando que os governados sejam protegidos de ações arbitrárias ou expansivas que transgridam os limites estabelecidos pelo pacto original[6].
O poder e a legitimidade dos magistrados advêm única e exclusivamente da Constituição. Interpretar o texto é uma função delegada, mas reescrevê-lo é ultrapassar os limites dessa delegação e se colocar acima do próprio texto constitucional, acima da vontade popular. A Constituição, enquanto pacto fundamental, é a expressão máxima da soberania popular, e não pode ser refém de vontades individuais ou de projetos ideológicos. Assim, qualquer tentativa de subverter o texto constitucional equivale a um rompimento com o pacto social e uma negação do próprio juramento que confere aos juízes sua legitimidade.
Saliente-se, por fim, que a própria Constituição prevê as hipóteses de emenda, detalhadas no artigo 60. Esse dispositivo é claro ao atribuir ao Congresso Nacional, representante da vontade popular, a competência para alterar o texto constitucional, respeitando os limites impostos pelas cláusulas pétreas. Não cabe, portanto, aos ministros do STF a prerrogativa de mudar o texto. Sua função é interpretar e aplicar a Constituição, não a modificar. Qualquer tentativa de usurpar essa competência é um desrespeito à separação de poderes, um descumprimento do juramento de posse, e um atentado à soberania do povo, que se manifesta por meio de seus representantes eleitos.
Agradeço aos colegas, Helio Beltrão, Luis Clóvis Jr (autor da obra “Erosão da Constituição pelos Tribunais, A - Volume 1: A Erosão Interna – 2024”) e André Luis Maluf pela revisão do texto original, propondo melhoras significativas.
Leonardo Corrêa – Advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, um dos Fundadores e Presidente da Lexum
Nota do Editor: A Lexum não adota posições específicas sobre questões jurídicas ou de políticas públicas. Qualquer opinião expressa é de responsabilidade exclusiva do autor. Estamos abertos a receber respostas e debates sobre as opiniões aqui apresentadas.
[1] Barnett, Randy E. “Judicial Engagement Through the Lens of Lee Optical.” George Mason Law Review, vol. 19, no. 4, 2012, pp. 845-860. Disponível em: https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1078.
[2] Optometristas são profissionais de saúde especializados em cuidados primários da visão. Eles realizam exames para identificar problemas como miopia, astigmatismo e hipermetropia, prescrevendo óculos ou lentes de contato quando necessário. Embora não sejam médicos, podem detectar sinais de doenças oculares, como glaucoma e catarata, encaminhando os pacientes a oftalmologistas para tratamento avançado. Diferentemente dos oftalmologistas, que são médicos capacitados a realizar cirurgias e prescrever medicamentos, os optometristas se concentram na avaliação e correção de problemas refrativos e na orientação sobre cuidados gerais com a visão.
[3] Randy E. Barnett, “Interpretation and Construction,” 34 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 65, 65-72 (2011). Disponível em: https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/820.
[4] Lord Devlin dizia: “é grande a tentação de reconhecer o judiciário como uma elite capaz de se desviar dos trechos demasiadamente embaraçados da estrada do processo democrático. Tratar-se-ia, contudo, de desvio só aparentemente provisório; em realidade, seria ele a entrada de uma via incapaz de se reunir à estrada principal, conduzindo inevitavelmente, por mais longo e tortuoso que seja o caminho, ao estado totalitário”. (In, “Judges and Lamakers”, em Modern Law Ver., 39 (1976), pág. 16, Apud, Mauro Capelleti, “Juízes Legisladores?”, Ed. Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, pág. 93.)
[5] Isso está em todos os termos de posse dos Ministros, no “Livro para Registro dos Termos de Posse”. Consulte-se, por exemplo, o Termo do Ministro Barroso em https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaMinistro&pagina=LuisRobertoBarrosoDadosDatas#item_4
[6] Randy E. Barnett, We the People: Each and Every One, Georgetown University Law Center, disponível em: https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1331.